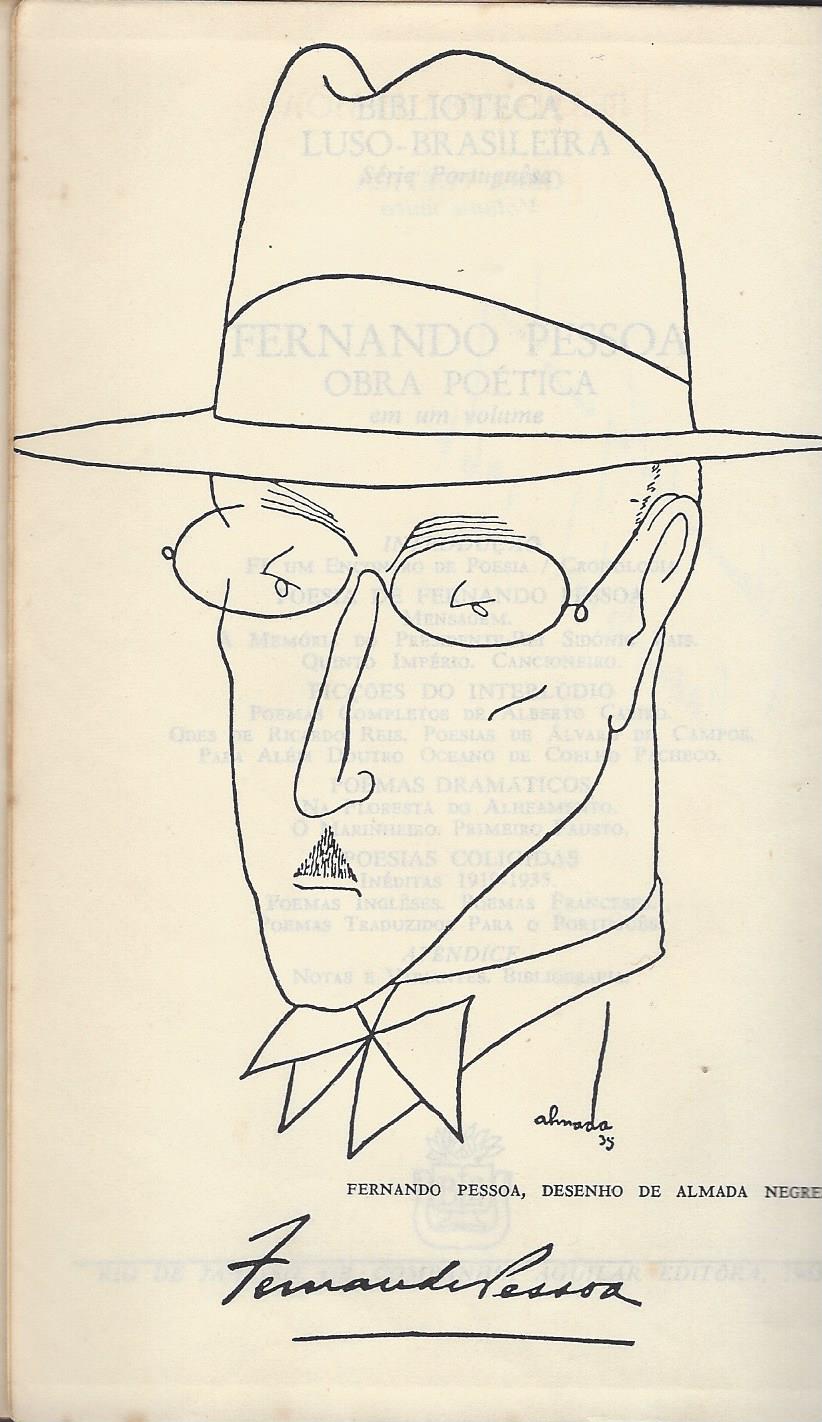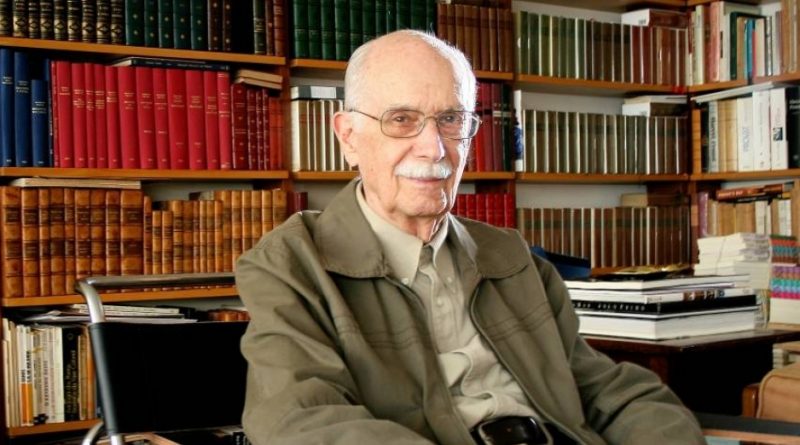Não é possível trazer à tona as memórias de minha infância sem falar dos animais que nos rodeavam. Um item que exige um pouco de método para não parecer uma babel, pois eram muitas as espécies.
Começo pelos animais domésticos, na nossa casa e na casa dos vizinhos.
Em casa tínhamos: o cavalo, a vaca de leite, de nome Mansinha, com seus terneiros periódicos, a cabrita com os cabritinhos, os porcos no chiqueiro, as galinhas com o galo e os pintinhos no galinheiro. Nas casas dos vizinhos havia também mulas, ovelhas, patos, gansos.
Fora do mundo doméstico, e começando pelo espaço aéreo, havia o gavião, que adorava atacar pintinhos, mas comia também carrapatos e bernes do gado. A curicaca, que gritava com estridência o nome dela – cu! ri! ca! ca! – e não deixava sobrar pinhão, na época do pinhão, mas também comia os bernes do gado.
As tirivas, parentes do papagaio, que andavam em bandos barulhentos, comiam frutinhas das árvores e também sumiam com os pinhões. Os urubus, sempre farejando alguma carniça. O jacu, que às vezes a gente ouvia cantar nalguma árvore, mas nunca deixava ser visto: só uma vez, bem cedo, vi aparecer um jacu no meio das galinhas, quando foi espalhado milho para elas no chão…
O chopim era outro passarinho que nunca chegava perto da gente: era bem preto e só era visto no alto das árvores. Só com bodoque, ou funda, dava para derrubar algum, porque não caiam na armadilha do mundéu ou da arapuca. Em geral, eles formavam manchas pretas, em bando, nas zonas de campo. Punham ovos nos ninhos dos tico-ticos, para não terem de chocar nem alimentar os filhotes. O modelo do parasita completo, dizia meu pai.
O mundéu e a arapuca eram usados para apanhar pássaros que atacavam as plantações. Em especial as do trigo e do milho. O mundéu era feito de uma tábua de meio metro, com uma pedra em cima, e uma isca que, beliscada, derrubava a tábua. Era mais usado para pegar tico-ticos assim que era semeado o trigo.
A arapuca era uma gaiola de vime, ou de taquara, também com uma armadilha, usada para caçar tirivas e papagaios quando o milho começava a formar espigas e era atacado por esses predadores. Como isca, punham-se debaixo dela grãos de milho maduro.
Na família dos insetos, é difícil recuperar a variedade que se escondia por toda parte. Isso sem falar nas pulgas e nos piolhos que, vez por outra, tinham de ser eliminados do corpo e dos lençóis. No paiol havia os carunchos roendo as espigas de milho e as aranhas fazendo teias.
Na estrebaria, os carrapatos apareciam no lombo da vaca ou de um terneiro. Na horta, a minhoca era a principal frequentadora dos canteiros. Mas havia também a centopeia e a escolopendra, devidamente identificadas pela quantidade de pernas de cada uma. Havia também os insetos que não se deixavam ver, mas marcavam presença pelos ouvidos, como a cigarra e os grilos.
Um cuidado permanente era com as cobras. A que mais rondava as casas e lavouras era a jararaca, uma cobra venenosa e traiçoeira, marrom, de um metro e meio de comprimento. Mais de uma vez assisti meu pai esmagando a cabeça delas às porretadas.
Uma história que ele nos contava era de que, quando moço, foi mordido por uma jararaca. Para tirar o veneno, mergulhou a perna num arroio de água corrente e foi raspando o local da dentada com uma faca, até achar que tinha tirado todo o veneno. E deu certo, não precisou de nenhum outro remédio.
Lembro também que ele aprendeu, imagino que nalgum dos livros de medicina de sua estante, ou em algum almanaque, uma técnica para eliminar o veneno da cobra. Pegava um chifre de veado do campo, cortava em pedaços de uma a duas polegadas, passava no rebolo até a peça ficar plana nas quatro faces e depois a punha no fogo, debaixo da cinza, para carbonizar.
Era a “pedra de cobra”, que era aplicada sobre os orifícios provocados pela dentada e absorvia o veneno. Quando a pedra caísse, estava completa a operação. Depois ela era deixada numa vasilha com leite para ficar limpa do veneno e poder ser usada novamente. Várias pessoas da vizinhança, adultos e crianças, foram salvos por essa técnica de meu pai.
Um episódio inesquecível aconteceu num final de manhã, quando eu mais dois irmãos voltávamos, enxada ao ombro, da lavoura de feijão. De repente o Anísio começou a gritar, olhando para as pernas, que tentavam se livrar de alguma coisa que as prendia. Olhamos e vimos uma cobra enrolada nelas, pelo jeito sem vontade de sair. Com nossa ajuda, o Anísio finalmente se desvencilhou. Mas nenhum de nós três ficou alarmado: sabíamos que não era uma cobra venenosa, mas uma cobra d’água, que por algum motivo resolvera dar um passeio.
Um inimigo mortal das cobras era o lagarto, tanto que eles não eram enxotados do redor da casa, mesmo quando vinham para roubar os ovos que as galinhas punham nalguma touceira de capim. Lagarto era um bicho amigo.
Nem um pouco amigos eram os gambás. Lembro a cena em que meu pai descobriu um ninho deles num tronco podre de árvore. A mamãe gambá estava com dois filhotes na bolsa da barriga, no mesmo estilo dos cangurus que eu via nos livros. Inesquecível também era o fedor que deixavam.
Outro bicho intolerável era o zorrilho. Felizmente eram raros os exemplares deles em São Chico. Mas um deles provocou certa noite uma pequena tragédia. Minha mãe acordou com as galinhas gritando e fazendo estrepolia e resolveu ir ver o que estava acontecendo. No que abriu a porta do galinheiro, um esguicho de urina de zorrilho a atingiu nos olhos, escorrendo pelo rosto e pela roupa. Ela passou bastante tempo tratando dos olhos, com chás indicados por meu pai. E nos dizia que a roupa, mesmo depois de lavada duas ou três vezes, ainda fedia.
Um animal que a gente também só conhecia pelo som era o bugio. O ronco do bugio, no meio do mato, era sinal de que vinha chuva. Um vizinho nosso, o seu Natal, contava uma história que meu pai dizia ser invenção. Tinha ele entrado no mato, com uma espingarda, e de repente viu um bugio em cima de uma árvore. Apontou a arma e o bugio, que era na verdade uma fêmea, ergueu o filhote diante dos olhos. O seu Natal não sabia dizer por que ela tinha feito isso, se era para se proteger, ou para avisar que tinha filho pequeno para cuidar. O fato é que seu Natal baixou a espingarda e saiu do mato.
De uns anos para cá acontece em São Francisco de Paula o Festival Ronco do Bugio. Esse não tem nada a ver com o bugio, pelo menos não de forma direta. Acontece que algum gaiteiro inventou lá um ritmo ao qual deu esse nome, de “ronco do bugio”. Daí nasceu um concurso anual de gaiteiros para preservar esse gênero de música.
Havia também os habitantes da água do arroio, além das cobras d’água. Os mais comuns eram os sapos e as rãs. Mas no Arroio Goiabeira, que tinha água suficiente para mover um moinho, a gente podia ver pequenos lambaris, ou, tendo sorte, algum jundiá.
Caçar não fazia parte dos hábitos de nossa família nem dos vizinhos. Só em Caxias fiquei sabendo que a caça podia ser uma paixão… A partir dessa descoberta é que escrevi a novela policial “O caso da caçada de perdiz”.
 a cotação da moeda;
a cotação da moeda;